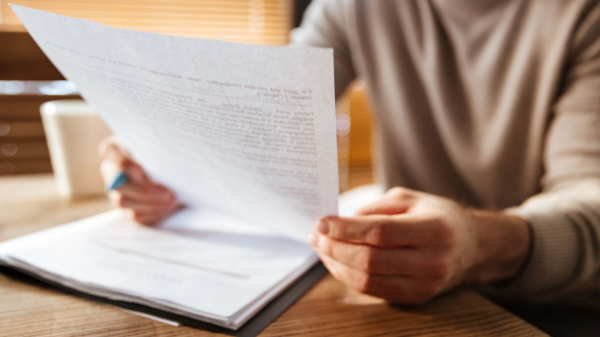
Resumo
Este trabalho analisa o fenômeno da
desjudicialização no ordenamento jurídico brasileiro, desde suas origens até os
desenvolvimentos contemporâneos. Examina-se a base constitucional e legal que
fundamenta este movimento, destacando as diferenças cruciais entre a
desjudicialização para agentes dotados de fé pública (notários e registradores)
e para entidades privadas desprovidas desta prerrogativa. O estudo aborda as
implicações jurídicas desta distinção, principalmente quanto aos aspectos
probatórios e à segurança jurídica, alertando para os riscos de procedimentos
conduzidos por agentes sem fé pública e seus impactos no sistema judicial
brasileiro. Conclui-se que a desjudicialização constitucionalmente adequada é
aquela realizada dentro dos estritos parâmetros do art. 236 da CF/88, mantendo
o controle efetivo do Poder Judiciário sobre os procedimentos desjudicializados.
Sumário
1. Introdução.
2. Origens
e evolução histórica da desjudicialização no Brasil.
3. Base
constitucional e legal 3.1. art. 236 da CF/88. 3.2. EC 45/04 e seu impacto.
3.3. Legislação infraconstitucional relevante.
4. Categorias
de desjudicialização no ordenamento jurídico brasileiro 4.1. Desjudicialização
para notários e registradores. 4.2. Desjudicialização para pessoas jurídicas
sem fé pública: uma inconstitucionalidade manifesta.
5. Análise
jurídica comparativa: questões probatórias e segurança jurídica 5.1. O regime
jurídico dos atos dotados de fé pública. 5.2. Atos praticados por entidades sem
fé pública: vulnerabilidades. 5.3. Impactos processuais e ônus da prova.
6. Riscos
e consequências da desjudicialização inconstitucional 6.1. Insegurança jurídica
e vulnerabilidade intrínseca dos procedimentos. 6.2. Efeito paradoxal: aumento
da judicialização a posteriori. 6.3. Impactos econômicos e sociais.
7. Experiências
concretas e casos paradigmáticos 7.1. Casos bem-sucedidos: desjudicialização
para notários e registradores. 7.2. Casos problemáticos: desjudicialização para
entidades sem legitimação constitucional. 7.3. O caso da lei 14.711/23: um
potencial agravamento do problema.
8. Conclusão.
9. Referências.
1. Introdução
A desjudicialização representa um fenômeno
jurídico contemporâneo caracterizado pela transferência de determinados
procedimentos, anteriormente de competência exclusiva do Poder Judiciário, para
outras instâncias e agentes. Este movimento surge como resposta à crescente
demanda por celeridade e eficiência na resolução de conflitos e na efetivação
de direitos, em um contexto de sobrecarga do aparato jurisdicional brasileiro
(RIBEIRO, 2013, p. 43).
Conforme observa Pedroso (2002, p. 17), a
desjudicialização constitui "um movimento de transferência de competências
processuais e procedimentais dos tribunais para outras instâncias de natureza
pública ou privada". Este fenômeno se insere em um contexto mais amplo de
transformações do sistema de justiça, visando superar entraves estruturais que
comprometem a efetividade da prestação jurisdicional.
O presente trabalho visa analisar
criticamente este movimento no ordenamento jurídico brasileiro, com especial
atenção às suas bases normativas, evolução histórica e implicações jurídicas.
Busca-se, particularmente, estabelecer uma distinção fundamental entre a
desjudicialização realizada para agentes dotados de fé pública, notadamente
notários e registradores, e aquela direcionada a entidades privadas desprovidas
desta prerrogativa, examinando as consequências jurídicas desta diferenciação.
A hipótese central que orienta esta
investigação é a de que a desjudicialização constitucionalmente adequada é
aquela que transfere procedimentos para agentes dotados de fé pública e
submetidos ao controle do Poder Judiciário, em conformidade com o modelo
estabelecido pelo art. 236 da CF/88. Em contrapartida, a delegação de funções
judiciais a entidades privadas sem estas características representaria uma
violação ao sistema constitucional de segurança jurídica, com potenciais
efeitos deletérios para a administração da justiça e para a garantia dos
direitos dos cidadãos.
2. Origens e evolução histórica da
desjudicialização no Brasil
A desjudicialização no Brasil começou a
ser implementada de forma mais estruturada a partir da década de 1990,
intensificando-se nos anos 2000, como resposta a múltiplos fatores convergentes
que evidenciavam a necessidade de reformulação do sistema de administração da
justiça.
Segundo Mancuso (2015, p. 27), este
movimento teve como impulsionadores principais:
"A crise de efetividade do sistema
judicial brasileiro, marcada pela morosidade processual, alto custo
operacional, formalismo excessivo e distanciamento da realidade social, criou o
ambiente propício para a busca de alternativas à jurisdição estatal
tradicional."
Watanabe (2011, p. 5) complementa que a
"cultura da sentença" predominante no Brasil, caracterizada pela
excessiva judicialização de conflitos, contribuiu significativamente para a
sobrecarga do aparato jurisdicional, tornando imperativa a adoção de mecanismos
alternativos para a composição de litígios e para a realização de atos
jurídicos.
Cronologicamente, podem-se identificar
marcos significativos deste processo, conforme detalhado por Rodrigues e
Ferreira (2013, p. 112-134):
·
Década de 1990: Primeiras iniciativas
pontuais de desjudicialização, como o reconhecimento de paternidade
extrajudicial (lei 8.560/1992) e os procedimentos extrajudiciais de alienação
fiduciária (lei 9.514/1997);
·
Anos 2000: Consolidação do movimento,
especialmente após a EC 45/04, com destaque para a lei 11.441/07, que
possibilitou a realização de inventários, partilhas, separações e divórcios
consensuais pela via extrajudicial;
·
Anos 2010 até o presente: Ampliação e
aprofundamento das hipóteses de desjudicialização, com novos marcos normativos
como o CPC/15 (lei 13.105/15), a lei de mediação (lei 13.140/15), a lei de
regularização fundiária (lei 13.465/17) e, mais recentemente, a lei 14.711/23,
que ampliou significativamente as hipóteses de busca e apreensão extrajudicial.
Esse movimento progressivo de
transferência de competências foi impulsionado por estudos e diagnósticos que
apontavam para a insustentabilidade do modelo exclusivamente judicializado.
Como observa Cappelletti (1988, p. 71), "o movimento de desjudicialização
se insere no contexto da terceira onda de acesso à justiça, caracterizada pela
busca de procedimentos mais acessíveis, simples e racionais".
É importante notar, entretanto, que esta
evolução histórica não ocorreu de maneira uniforme ou sistemática. Ao
contrário, como ressalta Brandelli (2016, p. 45), "a desjudicialização no
Brasil caracteriza-se por um desenvolvimento fragmentado e nem sempre coerente,
reflexo da ausência de uma política judiciária articulada e de uma compreensão
clara dos limites constitucionais deste movimento".
Esta observação é particularmente
relevante quando se considera que, especialmente nas iniciativas mais recentes,
tem-se verificado uma tendência de desjudicialização para além dos parâmetros
constitucionais do art. 236, com a delegação de funções a entidades desprovidas
de fé pública e não submetidas ao controle do Poder Judiciário, tendência essa
que suscita os questionamentos críticos que este trabalho pretende aprofundar.
Clique aqui
para ler a íntegra da coluna.
Fonte: Migalhas